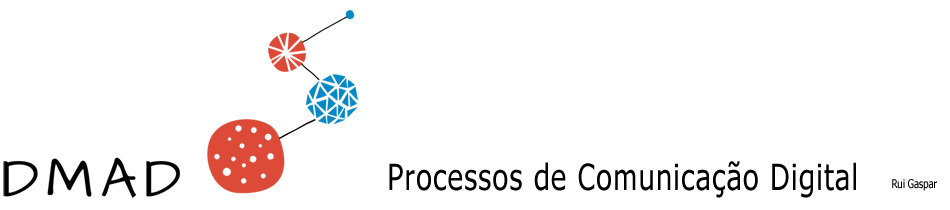Philipe Dubois
A morte, inerente à existência de todo o ser vivo, levou os chamados inteligentes a marcarem o espaço físico, social e cultural onde se inserem de diferentes formas. Para quê? Para preservarem as suas memórias, memórias essas que transportam o conhecimento de geração em geração, seja ela neural, iconográfica, monumental, fotográfica… ou digital. A primeira, a do nosso sistema neural, é efémera, não tem um fim datado, mas tem sempre um fim. Então como preservar e transmitir o conhecimento que lhe está associado? Esse tem sido um dos grandes desafios da humanidade. Depois da oralidade (do ouvir e do dizer), das imagens das pinturas rupestres, chegamos a formas muito complexas de preservar as memórias e, num salto muito significativo, através das novas “máquinas de imagens”.

Centrando-se nas “quatro últimas tecnologias” que suportam as “máquinas de imagens”, fotografia, cinema, televisão/vídeo e informática, Dubois mostra-nos a importância da novidade tecnologia associada a esse ato maquínico de registar e reproduzir as imagens. A novidade tem um papel fundamental no discurso e nas novas estéticas que supostamente brotam dessas imagens feitas sem a arte da mão do homem. A inovação tecnológica, a “retórica do novo”, numa apoteose tecnológica quase profética, parece provocar uma rutura com o passado, num sentido quase revolucionário que advém da utilização das novas “máquinas de imagens”, que acaba por provocar uma forte distorção entre o discurso e a realidade prática. Consciente deste facto, Dubois procura fazer uma de análise muito minuciosa, seguindo três eixos transversais:
- A questão maquinismo-humanismo (O lugar do Real e do Sujeito)
A “perda de artisticidade” a “desumanização” provocada pela falta da mão do artista na fabricação das novas imagens fotográficas vindas de uma technè que atinge um lugar quase “divino” na época, provoca inquietação no meio artístico. A construção das imagens é agora feita de forma automática, onde o homem é particamente excluído do ato. As imagens produzidas, fruto de uma representação quase perfeita e objetiva do mundo, introduzem uma nova relação entre o Real e o Sujeito, Tal fato resulta num “problema de atrofia do homem”, numa possível dissolução do Sujeito. Segundo Jonathan Crary a evolução do maquínico e o problema do humanismo ou da artisticidade são coisas bem diferentes: “o desenvolvimento daquela não tem necessariamente como correlato a regressão destes”.
A evolução do maquinismo é marcada pelo advento do cinema que possibilita a produção do imaginário, reintroduzindo o Sujeito na imagem, modificando substancialmente a relação entre o humanismo (estética) e o maquinismo (tecnologia).
Com a chegada da “máquina” de ordem quatro, a televisão e do sinal vídeo, dá-se uma nova evolução significativa, até aqui tínhamos, inevitavelmente, imagens do passado do passado, registadas em suportes de memoria química, inalteráveis, surge a possibilidade de termos as imagens em múltiplos lugares num mesmo intervalo de tempo, como se o espaço e o tempo da imagem se fundissem na transmissão e se diluíssem na receção.
O autor acaba este trajeto com a “máquina” de ordem cinco que “retorna as outras ao ponto de origem”. Estas máquinas não necessitam de duas entidades: uma para registar o Real e outra para o reproduzir: “a própria máquina pode produzir o seu “Real”, que é a imagem (informática) de si mesma, não existindo nada mais além da própria máquina. Assim, a própria imagem se tornou maquínica, inexistente para além do computador. Virtual, porque só existe enquanto a máquina funciona; interativa, porque só existe quando nós, programador ou utilizador, a solicitamos.
- A questão semelhança-dessemelhança (grau de analogia e os limites da mimese)
Ser semelhante a…, voltando ao início do texto, considerando que as pinturas rupestres foram as primeiras tentativas de criar imagens do mundo e de nós próprios, sou levado a acreditar que o Homem pré-histórico para além da tentativa de obter o máximo realismo, mimese, com a technè existente, a estética nunca deixou de estar presente nessas primeiras imagens do mundo, afinal “a questão da semelhança não é uma questão técnica, mas estética”.
A pintura, a fotografia, o cinema permitem registar imagens do passado Real com diversos gradientes de mimese, e isso é transversal a todas estas “artes” e independente da tecnologia. A televisão e o vídeo permite outro nível de mimese, a mimese do “tempo real”. A imagem e o som coexistem e são transmitidas em tempo real, permitindo termos “um mundo à sua imagem”.
Na última dimensão que conhecemos neste nosso percurso civilizacional, encontramos “as máquinas que deixam de reproduzir o mundo e passaram a “gerar o seu próprio real”, deixando de haver representação e referente. Ou seja “não é mais a imagem que imita o mundo, é o real que passa a se assemelhar à imagem”.
Nas suas diferentes dimensões técnicas ou artísticas, as imagens podem ser criadas ou reproduzidas com determinados efeitos subtis, mesmo dentro de um mimetismo aparentemente perfeito, dentro do visível ou invisível (ampliação, redução, raios x….), pelo que se pode afirmar que “em matéria de imagem: a invenção essencial é sempre estética, nunca técnica.
- A questão da materialidade-imaterialidade
Dentro do mundo das imagens, tendo como ponto de partida o valor estético ou artístico, uma pintura, rupestre ou outra, pela sua “materialidade concreta”, pelo fato de ser única, confere-lhe uma materialidade muito mais relevante que a fotografia: esta é “lisa”, achatada, não rara, pode-se destruir… desprezar.
Tecnologicamente, o cinema vive da recolha de imagens refletidas dos objetos e da sua posterior projeção. Estas imagens captadas e reproduzidas a uma velocidade “combinada” com a capacidade da retina do olho humano, como forma de conseguir materializar as imagens no nosso sistema nervoso. Este efeito de ilusão ótica, conseguido através do tempo de latência da nossa memória, leva-nos para outra dimensão da materialidade-imaterialidade, podendo ser considerada “duplamente imaterial”, na verdade, a “imagem de cinema não existe enquanto objeto ou matéria”.
Na televisão e vídeo, embora as imagens sejam captadas e emitidas seguindo os mesmos princípios de ilusão ótica, todo processo é feito eletronicamente, inicialmente através do varrimento do feixe de luz sobre um sensor para a captação de imagem e, depois, transmitido e apresentado na tela do ecrã ou num projetor de vídeo. A imagem deixou de se poder tocar, literalmente, no suporte da imagem, o objeto que a continha e que para nós era percetível, palpável, ausentou-se. A imagem passou a fazer parte de um processo eletrónico algo complexo onde não existe espaço, “mas apenas tempo”, sincronizado.
Chegamos ao fim deste percurso que denota um relação algo consistente entre a evolução tecnológica e a desmaterialização das imagens, culminando na desmaterialização total através da produção/reprodução das imagens através de sistemas informáticos. Segue os mesmos princípios eletrónicos da imagem de televisão e vídeo, mas consegue, finalmente, manipular as memórias das imagens, mesmo em tempo real. Esta conversão das imagens analógicas no formato digital, depois memorizadas e manipuladas/processadas de acordo com algoritmos matemáticos, permite a obtenção de imagens “puramente virtuais”, onde a imaterialidade atinge o seu extremo.A interatividade, a realidade virtual, a imersão provêm dessa nova dimensão imaterial da imagem, em que a computação aliada a utilização de múltiplos sensores e atuadores permitem construir mundos onde a “imagem perdeu o corpo… [a mão do artista] numa total abstração sensorial”.
Será que tudo isto nos levará a uma “hipertrofia do ver e do tocar”, de nos tornar cegos de pensando que poderíamos ver tudo, de nos tornar insensíveis, pensando que poderiam nos fazer sentir tudo? Estou convicto que não, afinal as tecnologias, a technè, sempre foram vistas com algum ceticismo perante a sua ação no Real (e ainda bem), mas os seus promotores, os artistas digitais, os tecnólogos, sempre tiveram consciência desse fato e das limitações inerentes a determinada tecnologia, por isso fazem-nas evoluir, tornando-as cada vez mais amigáveis. O verdadeiro perigo desta ação, não está na tecnologia em si, mas sim no “mercado”, a verdadeira aneaça da arte e da humanidade.
Dubois, Philipe. Cinema, vídeo, Godard, São Paulo, Cosac Naify, 2004.
.